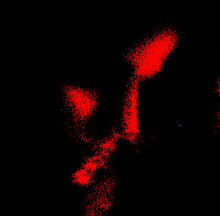Se algum acidente obriga a demora, então a Geografia pega-nos pela mão e a História conduz-nos por corredores de penumbra, com um céu como um tecto, corredores atravessados por abertos em qualquer direcção, onde a luz entra como uma bofetada, e as súbitas visões cubistas, fragmentadas e densas, de detalhe agudo como fio de navalha – ou as massas compactas de grandes estruturas, os conventos, os palácios, algumas cúpulas ou agulhas que procuram o céu de Lisboa. E logo em movimento ascendente, ou do fundo de alguma depressão, o que os rodeia ganha largo respiro e aparece o Tejo, o Castelo, massas de verdura que os números de análise dificilmente revelam.
Passear em Lisboa: movimento ritmado por um pulsar contínuo e ardente – expansão, contracção – como o bater de um coração com olhos que vêem longe ou recebem o sopro protector dos muros de reboco fissurado, riscado pelo encosto, de cores não intensas, transparentes, misturadas semi-cerrando os olhos, cores em deslocamento, conduzindo a outra cota e a outra impressão.
Às vezes Lisboa recorda Veneza, junto ao rio, onde o terreno é horizontal, aqueles poentes longos e doirados, rosa, turquesa, névoa; ou a nitidez do fundo de um quadro flamengo e a minuciosa formação de cabeleira de um santo ou de um comerciante ou de uma Eva nua. Os telhados são alçados. Os edifícios de escritório desalinham-se, a paisagem ordena-os inexplicavelmente, não tanto como no Rio de Janeiro. Há algo de alemão, mas nunca áspero, nos bairros económicos do Estado Novo, delgadas bandas entre o verde dos pátios. O ornato como as pedras de calcário, ou de poluição. Desapareceram as velas brancas do Mar da Palha. Outros barcos o atravessam. Grossas colunas de gente apressada atravessam as passadeiras do Terreiro do Paço, somem-se entre carros estacionados, saídas do Cacilheiro, pisam as calçadas de Lisboa, em branco e preto, com desenhos supostamente antigos, calçadas que o hábil golpe de martelo aconchega, calçadas que mantêm o respiro do solo de Lisboa, tão pisado, aterrado, sugerindo civilizações desaparecidas.
Esta viela tem as janelas que gostaria de desenhar mas não posso, feitas por mão de projecto cortadas, tocos de que algo vai nascer. Ao longo da margem do rio, em bolsas recém-formadas, surgem portas nova-iorquinas em segunda mão, multidões na rua como em Madrid, turistas espanhóis e brasileiros, entre gente alheia ao bulício, que recolhe às 7:30 e parte às 7h30, enchendo as estações do metropolitano carregadas de azulejos e de pedintes. A grande massa do Centro Cultural acena aos seus pares – os conventos e os palácios – espera o rio e o momento de se diluir no casario, suporta o perfil móvel das arquitecturas. Cada novo traço remete inevitavelmente a um traço antigo. Passa o taxista de Tabucchi.
Lisboa apaga a outra cidade de que não falo e de que vive a primeira. Nas lojas emolduradas a calcário carregado de cicatrizes, ou nas periferias desoladas entre colinas e sobre colinas, persiste um apetite irreprimível de regeneração, o impulso dos cataclismos e da persistência, das populações marginadas, imigradas, adaptadas por uma alegria intensa de viver.
O ondulado das colinas desdobra-se como um tapete que alguém estende num gesto largo, desenho denso, pedraria de que emergem grandes volumes de uma simplicidade solene, grandes terraços, muros de suporte revestidos a gladíola; desdobra-se, percorre o rio, como em Travelling de respiração suspensa. O olhar perde-se no mar, a linha do horizonte estremece.
Porto, 1994